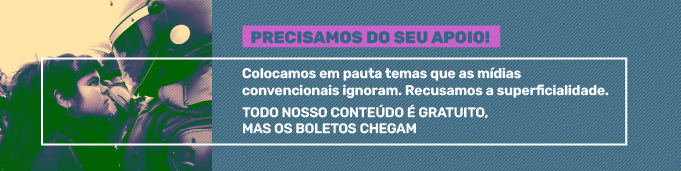Maconha: quanto mais resistirá o proibicionismo?
Congresso de cannabis medicinal expõe o óbvio: está cada vez mais disseminado, entre pesquisadores, cidadãos e até no “mercado”, que o uso da planta traz enormes benefícios para pessoas doentes e saudáveis. Massa crítica conseguirá acelerar o debate?
Publicado 29/05/2024 às 10:20 - Atualizado 29/05/2024 às 13:05

Foi realizado na semana passada em São Paulo, no pavilhão de exposições do Center Norte, o 3º Congresso Brasileiro de Cannabis Medicinal. Divididos em eixos temáticos, como medicina, veterinária, negócios e agricultura, os três dias de evento receberam expositores de diversas áreas para defender o avanço da legislação brasileira em favor da liberação do uso social e médico da maconha e seus derivados.
Ao Outra Saúde, Pedro Antonio Pierro Neto, neurocirurgião (CRM-SP 102-283 e o RQ de neurocirurgião 62-363), coordenador médico do Congresso, explica as razões, em suas variadas dimensões, que devem levar o Brasil a quebrar seu paradigma de preconceito e repressão à maconha no momento em que, por exemplo, os Estados Unidos já observam que seu uso cotidiano pela população supera o consumo de álcool.
“Hoje, a cannabis medicinal não é usada apenas para doenças. Tivemos uma quebra de paradigma com as Olimpíadas de Tóquio, em 2021, onde o canabidiol, que é um dos componentes da cannabis, um fitocanabinoide, foi liberado pra uso de atletas olímpicos antes, durante e após as suas provas. A substância deixou de ser considerada doping e o motivo de sua liberação é que serve ao controle da ansiedade e recuperação física”, contou.
Em paralelo às palestras e debates, ocorria no mesmo pavilhão a Feira de Cannabis Medicinal, onde diversas empresas que já investem nesta nascente indústria expunham produtos destinados à saúde e bem estar. Como explica Pierro na entrevista, o Brasil vive a contradição da estigmatização social da planta enquanto seus derivados, como CBD, se tornam um produto de saúde cada vez mais disseminado.
Para ele, as vantagens de sua absorção pela lei, com a consequente criação de toda uma indústria do setor, são evidentes em termos de saúde pública, mais ainda no momento em que o CBD acaba de chegar ao SUS paulista, onde poderá ser receitado para tratamento de três doenças neurológicas. “É conseguir dar a todos os cidadãos o mesmo direito à saúde, como está na Constituição. Saúde é o direito de todos e dever do Estado. O CBD no SUS amplia acesso a tratamentos de saúde, em resumo”, avaliou o médico.
Como se viu no congresso, a pressão pela liberação de CBD para tratamento de outras doenças, como Transtorno do Espectro Autista e epilepsia, é grande. Familiares de pacientes portadores de tais condições marcaram presença no evento e se revelam destacados ativistas da liberação da maconha com fins medicinais, inclusive seu autocultivo, para além da legalização de um mercado que já tem seus líderes em franco processo de desenvolvimento. Segundo dados divulgados pelo próprio Congresso, pelo menos 430 mil pessoas fazem tratamento de saúde com algum derivado de cannabis e calcula-se um potencial de cerca de 7 milhões de pessoas que poderiam se beneficiar de seu uso terapêutico.
Para Pedro Pierro, a liberação da maconha também poderia contribuir para a agricultura brasileira e um uso mais sustentável do solo, em especial em áreas de monocultivo. “(As vantagens são) arrecadação de imposto, a criação de um mercado de commodities, como se vê no agronegócio. Na questão agrária, há ainda a possibilidade de recuperação de solo do cultivo de soja entre as safras. Plantar cannabis ajuda a recuperar o solo e aumentar sua produtividade. Existe todo um potencial de geração de empregos e uma cadeia produtiva na economia. É algo de que o país não poderia abrir mão”, defendeu.
No entanto, não se trata somente de defender um novo nicho de mercado e suas vantagens econômicas. Falar da liberação da maconha é tocar em um ponto nevrálgico da violência social e estatal que marca as relações sociais brasileiras. E os participantes do Congresso sabem disso.
“Hoje é o ‘PPP’ que mais sofre com a criminalização da cannabis, isto é, o preto, pobre e periférico. Uma vez que se regulamenta a cannabis, tira-se uma parte da pressão de cima dessas pessoas. Hoje tem gente presa por conta de maconha, uma coisa que é vendida na farmácia. A pessoa está presa por quê? Porque faltou uma receita médica? Isso daí é uma injustiça social muito grande”, criticou.
Acostumado a lidar com perseguição ideológica em razão do ativismo antiproibicionista, o neurocirurgião sabe que a confrontação política é e será cada vez mais inevitável. “A indústria da repressão, da segurança vai ter que ser confrontada em algum momento. Mas acreditamos no bom senso, que ao entender o que acontece as pessoas vão ver o melhor caminho, o caminho da redução de danos, da regulamentação e não a repressão”.
Leia a seguir a entrevista completa com Pedro Antonio Pierro Neto.

Que caminhos te levaram à cannabis medicinal e, de alguma maneira, estão por trás da construção deste congresso, num pais que tem uma política repressiva historicamente tão violenta em relação ao uso da maconha?
Eu comecei com uso medicinal da cannabis entre 2012 e 2013, por conta de pacientes que já tinham conhecimento e que, de certa forma, me levaram até esse ecossistema. Nas primeiras regulamentações da Anvisa, em 2014, ela colocava como especialidades prescritoras neurologistas, neurocirurgiões e psiquiatras. Assim, isso me trouxe, naquele momento, a segurança necessária pra ter a experiência que hoje me coloca aqui como curador científico do 3º Congresso Brasileiro da Cannabis Medicinal.
O Congresso surpreende pela sua composição de atores, desde profissionais da medicina e veterinária, professores e pesquisadores, a diversos empresários, dispostos a investir dinheiro no ramo, além de produtos exibidos que vão muito além das doenças com as quais a cannabis medicinal ficou associada nos últimos tempos.
O Congresso acompanha o crescimento do uso da cannabis, não do seu uso recreativo ou social, mas no mundo, independentemente até das regulamentações do país. Por isso nós temos desde palestrantes até expositores do mundo inteiro, principalmente da América Latina.
Hoje, a cannabis medicinal não é usada apenas para doenças. Tivemos uma quebra de paradigma com as Olimpíadas de Tóquio, em 2021, onde o canabidiol, que é um dos componentes da cannabis, um fitocanabinoide, foi liberado pra uso de atletas olímpicos antes, durante e após as suas provas. A substância deixou de ser considerada doping e o motivo de sua liberação é que serve ao controle da ansiedade e recuperação física.
A cannabis medicinal não é mais um produto voltado exclusivamente a pessoas doentes, vale também para pessoas saudáveis. E aí tem uma frase que eu gosto muito: “a cannabis não serve pra tudo, mas pode servir pra todos”. Mas a cannabis é muito mais do que isso. Hoje temos sua utilização tanto para animais, não à toa o Congresso dedicou um dia a todo à veterinária, onde foi discutida a utilização como medicamento, e também na confecção de roupa para pets, coleiras, rações, a fim de fazer o animal ter mais facilidade e prazer em se alimentar.
Portanto, a mobilização pelo avanço da cannabis está em diversas frentes. Dentro do Congresso tivemos salas voltadas ao agronegócio, ao aspecto legislativo, e por isso nós tivemos convidados da Embrapa, da diretoria da Anvisa, do Ministério do Empreendedorismo, deputados estaduais e federais, representantes do Executivo, do Legislativo e do Judiciário inseridos nesse Congresso.
É interessante essa parte da participação institucional do Estado brasileiro, atravessado por interesses ultraconservadores que estigmatizam o consumo de maconha e fazem disso um grande capital político-eleitoral. Como analisa esse aspecto num momento onde vemos o Congresso, mais especificamente no Senado, avançar numa legislação ainda mais repressiva para o usuário, enquanto o STF tenta relaxar a repressão ao menos na dimensão do consumo?
A nossa ideia é justamente sair dessa questão ideológica. A doença não é uma ideologia, as pessoas ficam doentes, de direita, de esquerda, ricas, pobres, protestantes, católicos, umbandistas. Não é um aspecto religioso, não é um aspecto ideológico, não é um aspecto político. Tentamos manter uma distância, porque a planta é a mesma, mas são pautas diferentes. O uso adulto da planta, para fins medicinais ou de negócios, parte da questão do uso mais social da planta.
Quando pensamos na autorização e na liberação do uso vaporizado da cannabis, alguns aspectos precisam ser descritos antes. Tipo, quem planta, quem vende, aonde vende, quem consome, aonde consome. Enquanto tudo isso ainda não estiver esclarecido, é difícil ter uma opinião formada sobre a autorização do uso social da planta. Mas quando falamos do uso médico e do uso industrial, não entramos nessa seara.
Inclusive, a maior parte das plantas que se utilizam para isso são de baixo teor de THC. O THC é o que dá o efeito psicoativo da planta, quando as pessoas fumam maconha, elas estão em busca do THC. O THC pode ser usado do ponto de vista médico, tem suas indicações, mas a maior parte dos remédios é feita com outro canabinoide, o CBD.
E há plantas com um nível muito baixo de THC, que não teria finalidade nenhuma para o uso adulto, que é o cânhamo industrial. Esse é o nosso principal foco em debater por que essa planta não pode ser usada para fins sociais e cultivada no Brasil, para que as pessoas tenham mais acesso a remédios e economizem algum dinheiro.
E como enxerga os debates da maconha medicinal no campo médico-científico neste momento?
Tem um preconceito muito grande. Toda hora aparece alguma organização que vai contra o avanço das pesquisas no mundo. Isso é uma coisa muito ruim. O Brasil é o celeiro do mundo. Como escreveu Pero Vaz de Caminha, na primeira carta registrada da história do país, nessa terra tudo que se planta, dá. E nós compramos insumos de fora do país.
A primeira pesquisa no mundo feita sobre a utilização de canabidiol na epilepsia é do Brasil, da década de 80. Hoje nós temos um dos maiores pesquisadores do mundo de canabinoides, o professor José Alexandre Crippa, da USP de Ribeirão Preto. Seu grupo é um dos que mais produzem artigos científicos de canabidiol no mundo.
Agora, estamos entrando no SUS aqui, em especial em SP, onde os primeiros produtos de CBD para tratar determinadas doenças acabam de chegar às mãos da secretaria de saúde.
Enfim, o Congresso da Cannabis traz todas essas pautas para serem discutidas, onde devem ser discutidas, que é no ambiente científico, um ambiente aberto a todas as opiniões.
E no campo da saúde pública, especificamente, quais seriam os ganhos do avanço dos CBDs, do uso deles no SUS?
Acesso. É conseguir dar a todos os cidadãos o mesmo direito à saúde, como está na Constituição. Saúde é o direito de todos e dever do Estado. O CBD no SUS amplia acesso a tratamentos de saúde, em resumo.
E no campo econômico, como é que você, em linhas gerais, quais seriam as vantagens para o Brasil?
Arrecadação de imposto, a criação de um mercado de commodities, como se vê no agronegócio. Na questão agrária, há ainda a possibilidade de recuperação de solo do cultivo de soja entre as safras. Plantar cannabis ajuda a recuperar o solo e aumentar sua produtividade. Existe todo um potencial de geração de empregos e uma cadeia produtiva na economia. É algo de que o país não poderia abrir mão.
No campo internacional, que países você vê mais à frente nesse sentido?
Os Estados Unidos já liberaram seu uso e produção medicinal em vários estados, Alemanha e Uruguai são dois países que avançaram recentemente. O mundo caminha para isso e o Brasil vai em passos lentos, mas estamos indo, estamos andando. Espero que este nosso Congresso impulsione um pouco mais esse debate.
Vocês consideram que uma maior aceitação social da maconha é vetor de diminuição da violência social, em especial aquela associada à “guerra às drogas”?
Hoje eu vi uma frase do coordenador veterinário do congresso, o professor doutor Eric Amazonas, um grande amigo, que usou uma linda frase: “no Brasil nós não abolimos a escravidão, nós libertamos os escravos”. São coisas bem diferentes.
Hoje é o “PPP” que mais sofre com a criminalização da cannabis, isto é, o preto, pobre e periférico. Uma vez que se regulamenta a cannabis, tira-se uma parte da pressão de cima dessas pessoas. Hoje tem gente presa por conta de maconha, uma coisa que é vendida na farmácia. A pessoa está presa por quê? Porque faltou uma receita médica? Isso daí é uma injustiça social muito grande.
No entanto, parece impossível falar de avançar com a legalização da maconha e seus diversos usos sem enfrentar poderosos grupos de interesses políticos e mesmo econômicos, como a indústria da segurança, das armas…
São as “dores do crescimento”. Não tem como evitar. A indústria da repressão, da segurança vai ter que ser confrontada em algum momento. Mas acreditamos no bom senso, que ao entender o que acontece as pessoas vão ver o melhor caminho, o caminho da redução de danos, da regulamentação e não a repressão.